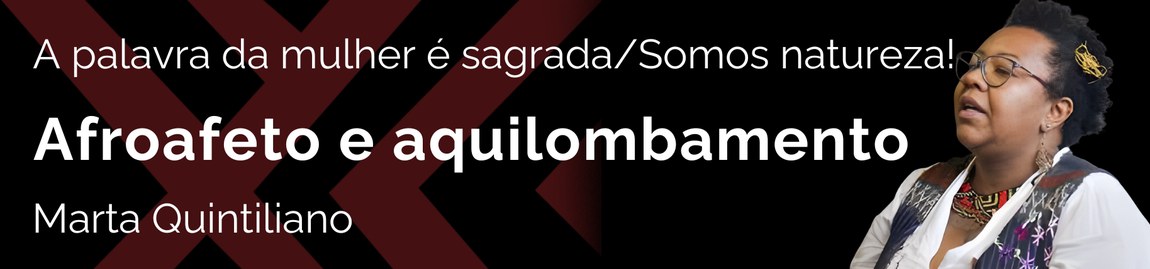CONFLUÊNCIAS AMEFRICANAS
Saberes que enegrecem a terra e iluminam o mundo
Marta Quintiliano
A Revista PIHHY apresenta com entusiasmo a seção Confluências Amefricanas, inspirada na potente obra de Lélia Gonzalez, que nos ensinou a nomear e reconhecer a presença viva das epistemologias negras na constituição da América Latina.
Este espaço nasce como uma encruzilhada de saberes, onde mestres e mestras das comunidades indígenas e negras, quilombolas, ribeirinhas, de terreiro; compartilham reflexões, práticas, memórias e modos de sustentar a vida.
Aqui, o diálogo é ancestral — ecoa as vozes de quem sempre soube, mas por tanto tempo foi silenciado.
Ancestral
Essa iniciativa tem inspiração no espírito do MESPT/UnB (Mestrado Profissional em Sustentabilidade junto a Povos e Terras Tradicionais), um projeto admirável e necessário que demonstra como a universidade pode, sim, se transformar ao ouvir e aprender com os povos tradicionais.
Essa seção busca também tornar-se um espaço de legitimação dos saberes ancestrais e da vida como método.
Afrofeto
Nesta seção contamos com a contribuição da doutora Marta Quintiliano, antropóloga quilombola que pesquisa as políticas afirmativas em instituições e cunhou o conceito Afroafeto.
Sou uma quilombola antropóloga.
Nasci em Trindade (GO), filha de Maria Madalena e João Quintiliano, e cresci em uma comunidade que, mais tarde, pesquisadores reconheceram como quilombola.
Nossa vida era marcada pelo trabalho coletivo, pela agricultura, pela culinária e pela união — valores transmitidos por minha avó, que transformava o ato de cozinhar em exercício de afetividade e resistência.
A Antropologia é um campo baseado na escuta, na observação e na escrita — mas, entre os povos quilombolas e indígenas, o conhecimento se transmite de outras formas: pela memória, pela oralidade, pelo grafismo, pela dança, pela música e pela espiritualidade.
Nossos registros são vivos e partilhados, não apenas escritos.
Pesquisadores ocidentais costumam adentrar nossos territórios sagrados e são recebidos com hospitalidade — com festa, música e comida.
Compartilhamos parte de nossos saberes, que acabam levados à Universidade, transformados em ciência “branca” ou folclore.
Conhecimento
Poucos reconhecem que nós também produzimos conhecimento e teoria.
Desde meados do século XX, a Antropologia passou por transformações profundas — com o estruturalismo, o culturalismo, o feminismo e, sobretudo, com os movimentos sociais que exigiram que fôssemos vistos como sujeitos, e não objetos de pesquisa. Stanley Barrett (2005) já advertia sobre a arrogância de quem acredita poder representar o outro sem ser afetado por ele.
Ao ingressarmos na academia, propomos uma inversão: como diz Letícia Jôkàhkwyj Krahô:
“a universidade é o nosso campo de pesquisa; o estranho está do lado de cá”.
Contudo, o espaço acadêmico ainda se mostra hostil e branco, distante de nossos modos de convivência e saber.
Minha pesquisa reflete sobre as formas sutis e estruturais de exclusão que atingem estudantes indígenas, negros e quilombolas.
Apesar das políticas de inclusão, persistem barreiras no acesso, na permanência e na conclusão dos cursos.
Minha trajetória revela que muitos desses estudantes não conseguem se adaptar à lógica acadêmica, marcada pela solidão e pela desvalorização de seus saberes.
Sobrevivente
Sou, de certo modo, uma sobrevivente. O que na comunidade é reconhecido como sabedoria, na universidade é frequentemente ignorado.
As trajetórias de estudantes indígenas, negros e quilombolas na universidade revelam o peso das estruturas de exclusão que persistem, mesmo com políticas de cotas.
Lembro que um colega, quilombola do Engenho II, abandonou o curso de Publicidade por não ver correspondência entre o conhecimento acadêmico e o de sua comunidade.
Outros casos evidenciam barreiras financeiras, burocráticas e simbólicas que inviabilizam o acesso e a permanência.
Minha própria experiência mostra como o racismo institucional opera nos espaços acadêmicos, calando nossas vozes e deslegitimando nossos saberes.
O depoimento de um estudante indígena ilustra o desafio de expressar-se em uma língua que não é a sua, condição comum entre os que ingressam tardiamente na escola ocidental.
Epistemicídio
Esses entraves configuram o que Sueli Carneiro chama de epistemicídio — a negação e desqualificação dos conhecimentos dos povos subjugados.
Ainda assim, algumas transformações emergem: o caso de Ercivaldo Damsõkẽkwa Xerente levou o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFG a propor cotas e flexibilizar editais, tornando-se pioneiro em incluir indígenas, quilombolas e negros.
Entre 2017 e 2019, o PPGAS/UFG acolheu novos sujeitos, adaptando provas, eliminando barreiras linguísticas e garantindo isenção de taxas.
O desafio agora é garantir a permanência e a valorização desses estudantes.
As redes de apoio entre nós — indígenas, quilombolas e negros — tornam-se fundamentais para resistir.
Rede afro-indígenoafetiva
Chamamos essa força coletiva de “rede afro-indígeno-afetiva”, expressão política e afetiva que reafirma nossa presença e a potência da escrita como ato de resistência.
Como diz Conceição Evaristo, “nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da casa-grande, mas para incomodá-los em seus sonhos injustos”.
Minha trajetória se entrelaça, ainda, à de meus parentes e à criação das políticas de inclusão na universidade.
Aprendi, com o tempo, que a suposta imparcialidade acadêmica é uma forma de silenciar e afastar os sonhos dos grupos historicamente desprivilegiados. Como disse uma ativista preta, “entre o lado A ou B, sigo preta”.
Permanecer na universidade exige resistência diante do racismo institucional, das violências simbólicas, da precariedade financeira e dos atrasos da bolsa permanência — situações que revelam a falta de empatia institucional e as dificuldades de quem depende exclusivamente desse recurso para sobreviver.
O racismo, porém, segue operando de forma cotidiana: nos silenciamentos em sala, nas críticas desqualificadoras à escrita e nas tentativas de apagar nossas produções. Essas violências são expressões do epistemicídio que atinge estudantes indígenas, negros e quilombolas.
Hoje, desenvolvo oficinas de turbantes e participo de encontros étnico-raciais como forma de manter viva a cultura afro-brasileira e fortalecer os afroafetos.
As redes formadas entre estudantes negros, indígenas e quilombolas, como o coletivo Uneiq, tornaram-se fundamentais para nossa sobrevivência e permanência na universidade.
Essas redes representam o que Aguilar chama de produção do comum — espaços de troca e cuidado que reafirmam nossa presença. Neles, compreendo que minha trajetória individual só faz sentido quando vivida e escrita coletivamente.
No decorrer de minha vida, percebi que mais importante que analisar documentos institucionais era reconhecer a força das redes afroindígenoafetivas — teias de apoio e solidariedade que garantem o ingresso, a permanência e a conclusão de trajetórias acadêmicas de indígenas, negros e quilombolas.
Essa descoberta se tornou também um exercício de autoetnografia. Minha experiência pessoal reflete o racismo institucional que atravessa a universidade, mas também revela o acolhimento que encontrei nessas redes. Nelas, conversamos sobre as exclusões cotidianas e transformamos o afeto em resistência. Essas relações são, portanto, o verdadeiro fundamento de uma política de inclusão efetiva.
As redes afroindígenoafetivas não nascem na universidade: elas (re)existem desde os quilombos e retomam antigas formas de comunalidade e cuidado.
Ao nos reunirmos — ao aquilombarmos — enfrentamos o individualismo e o capitalismo que fragmentam nossos corpos e saberes. Como afirma Daniel Munduruku, a escola moderna ainda tenta “rasgar nosso espírito” e negar nossos modos de ver e escrever o mundo.
Essas redes são uma forma de Maria Madalena.
Elas expressam modos outros de pensar e existir na universidade, ampliando o sentido da inclusão para além do acesso — rumo à transformação do próprio saber acadêmico.
Valorar os conhecimentos tradicionais e reconhecer sua equivalência ao saber científico é urgente. O país só se tornará realmente democrático quando respeitar suas diversidades epistêmicas e espirituais.
As redes afroindígenoafetivas apontam esse caminho: uma epistemologia do comum, que nos cura, nos fortalece e nos convida a continuar o ato político e espiritual de aquilombar-se.